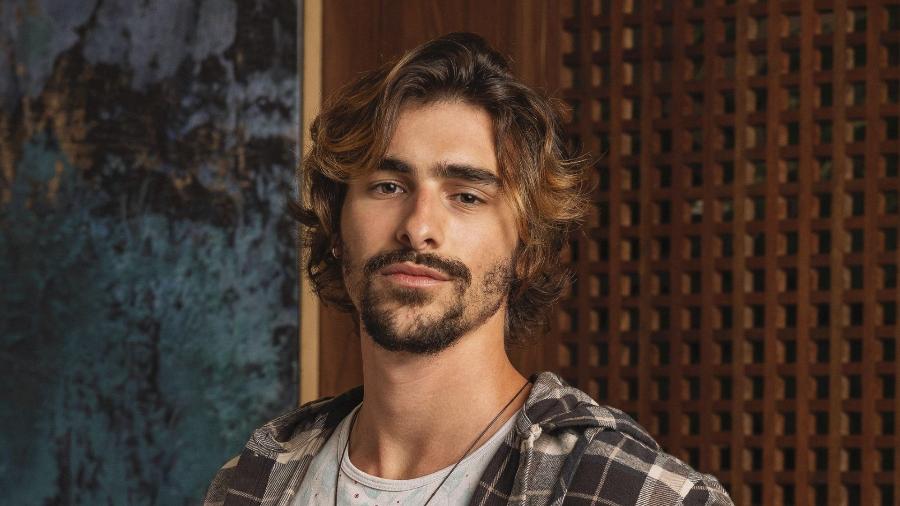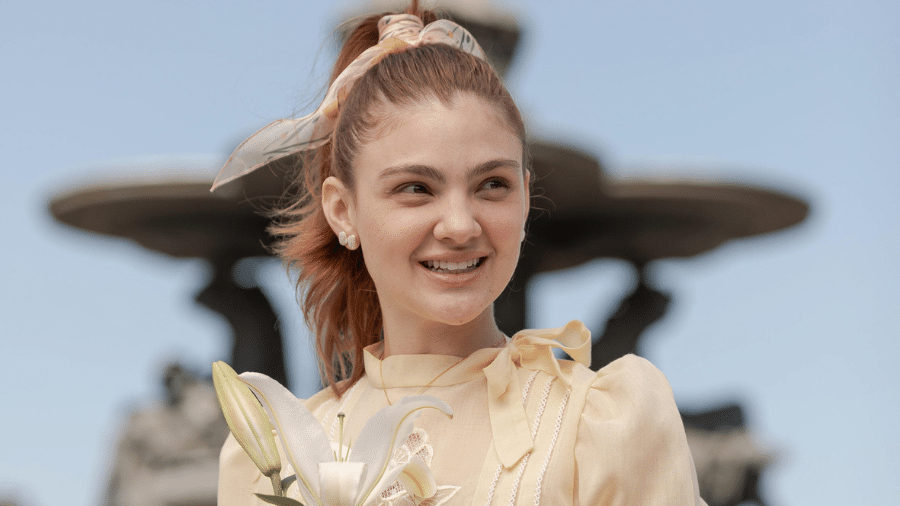Leia trecho de "Argo", história que deu origem ao filme de Ben Affleck
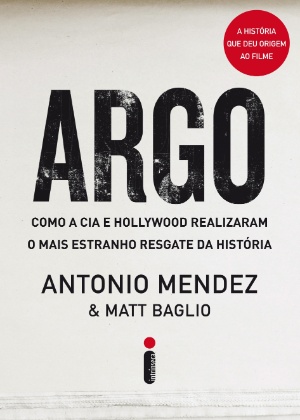
Leia abaixo os primeiros capítulos da edição impressa de "Argo", de Antonio Mendez.
Alguns nomes foram alterados para proteger a privacidade dos indivíduos.
No final daquela tarde de sábado, eu estava pintando no meu ateliê. Lá fora, o sol começava a se pôr detrás das montanhas, lançando uma sombra escura e comprida que cobria o vale como uma cortina. Eu gostava da penumbra no aposento.
Come Rain or Come Shine era a canção que tocava no rádio. Com frequência eu ouvia música enquanto trabalhava. Para mim, era quase tão importante quanto a luz. Eu instalara um ótimo sistema de som estéreo e, se pintasse até tarde no sábado à noite, podia pegar o Hot Jazz Saturday Night, com Rob Bamberger, na estação NPR.
Eu comecei a pintar ainda na infância e trabalhava como artista plástico ao ser contratado pela CIA em 1965. Ainda me considerava um pintor em primeiro lugar e depois um espião. A pintura sempre foi uma válvula de escape para as tensões que acompanhavam meu trabalho na Agência. Apesar do convívio ocasional com burocratas, cujas idiossincrasias me faziam chegar ao ponto de querer esganá-los, se pudesse ir até o ateliê e pegar um pincel, a raiva reprimida acabava se dissolvendo.
Meu ateliê equilibrava-se sobre a garagem, com acesso por uma escada bastante íngreme. Era um aposento amplo com janelas em três lados. O piso era revestido com um assoalho de pinho amarelo em diagonal e coberto por uma profusão de tapetes orientais. Como mobília, havia um enorme sofá branco e algumas antiguidades que a minha esposa, Karen, adquirira para sua empresa de decoração de interiores. Era um espaço bastante confortável e, o mais importante, era meu. Entrar ali exigia minha permissão, algo que eu concedia com generosidade. Os amigos e a família sabiam, porém, que, quando eu estava envolvido com um projeto, deviam andar nas pontas dos pés.
O ateliê foi construído junto com a casa. Após regressar de uma temporada de trabalho no exterior em 1974, Karen e eu decidimos que seria melhor criar nossos três filhos longe da barra-pesada de Washington, D.C. Escolhemos um terreno de quinze hectares no sopé das montanhas Blue Ridge e, depois de desmatar um trecho, passei a maior parte de três verões construindo a casa principal enquanto a família e eu morávamos numa cabana de madeira, também erguida por mim. A terra tinha uma longa história. O campo da Batalha de Antietam* ficava pouco adiante estrada acima, e de vez em quando achávamos alguma relíquia da Guerra Civil — botões, balas, peitorais — jogada entre as folhas e as árvores caídas nos limites da nossa propriedade.
A pintura em que eu trabalhava naquela tarde fora desencadeada por uma expressão associada ao meu trabalho: Wolf Rain [Chuva de Lobo]. Era um nome de sonoridade sombria como o clima melancólico, inóspito e úmido, e se relacionava com as profundezas da paisagem de floresta, bem diante da minha janela, numa noite de inverno. Transmitia uma espécie de tristeza que eu não conseguia explicar, mas sentia que podia pintar.
Trabalhar em Wolf Rain era uma daquelas coisas que a gente espera que aconteçam na nossa vida de artista — uma pintura que simplesmente emerge do nada. Talvez como o personagem de um livro que abre seu caminho até tomar conta da narrativa. A figura do lobo era reconhecível apenas pelos olhos — uma imagem flutuante numa floresta encharcada pela chuva com uma angústia perceptível no olhar. Se a pintura ia bem, minha mente entrava de imediato em modo “alfa”, o estado subjetivo, criativo, do lado direito do cérebro no qual ocorrem os lampejos de descobertas.
Einstein disse que o que define um gênio não é uma inteligência superior à dos outros, e sim a predisposição para receber a inspiração. Para mim, essa era a definição de “alfa”. Eu começava a sessão desvencilhando-me de todos os babacas do trabalho e, em seguida, saltava para momentos de clareza em que encontrava soluções para problemas que eu nunca tinha considerado antes. Eu estava pronto para receber.