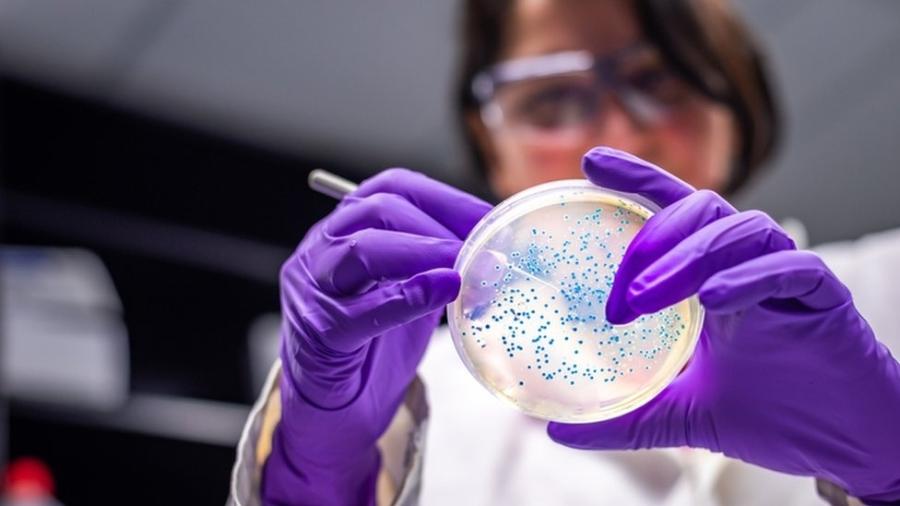Combate ao coronavírus expõe concentração da indústria de medicamentos
A disputa por medicamentos em meio ao combate ao novo coronavírus deixa em evidência problemas antigos de uma indústria trilionária que, segundo especialistas, não necessariamente atende aos interesses dos pacientes ou de governos, nem mesmo em tempos de pandemia.
O acesso a remédios mundo afora é desigual. E os investimentos em pesquisa priorizam a medicação de uso contínuo, ou princípios ativos mais rentáveis do que antibióticos e vacinas.
Concentrado nas mãos de um punhado de empresas poderosas, instaladas sobretudo em países ricos, o mercado farmacêutico é guiado por muitos interesses. E boa parte deles gira em torno das finanças, dizem especialistas ouvidos pela BBC News Brasil.
Nesse segmento que movimentou US$ 1,2 trilhão (pouco mais de R$ 6 trilhões) em 2018, as 10 maiores companhias do mundo em volume de vendas tiveram receitas de US$ 351,55 bilhões. Seis delas são dos Estados Unidos (Pfizer, Johnson&Johnson, Merck&Co, Abbvie, Amgen e Gilead), duas da Suíça (Roche e Novartis), uma da França (Sanofi) e outra do Reino Unido (GlaxoSmithKline).
Os dados constam do levantamento publicado pela Evaluate, empresa de análise de dados do mercado farmacêutico, em maio do ano passado, com base em informações de 2018.
São essas mesmas empresas que determinam preços e quem tem acesso aos medicamentos. O sistema de incentivo à inovação tem um desequilíbrio crônico e isso está nos relatórios da organização Médicos sem Fronteiras (MSF) desde a década de 1990.
Não há, segundo a entidade, estímulo à criação de medicamentos para doenças negligenciadas ou ligadas à pobreza.
Por sinal, o mesmo documento da Evaluate indica que as dez maiores investiram US$ 66,14 bilhões em pesquisa e desenvolvimento, menos de 20% das receitas que obtiveram no período.
Monopólio pelas patentes
"O problema é que essas farmacêuticas têm a sua própria lista de prioridades. E a primeira é que querem estar nos mercados mais lucrativos (daí a opção de países), a segunda é que dedicam as suas pesquisas a medicamentos de uso contínuo para doenças crônicas. Elas rendem mais. Isso explica por que investem pouco em novos antibióticos, que, ainda que custem caro, são usados por um curto período de tempo", disse Felipe Carvalho, especialista em acesso da MSF.
Por mais complexa que seja a cadeia de produção de medicamentos, é inegável que fabricá-los é um bom negócio.
A indústria farmacêutica está entre as 10 mais lucrativas do mundo, com uma margem de lucro de 22,78%, já descontado o pagamento de impostos, de acordo com a pesquisa da revista Forbes no ano passado.
Para se ter uma ideia do que isso significa, a média das margens das indústrias em geral seria de 10,32%, segundo a revista.
"O governo geralmente paga as pesquisas básicas e a maior parte daqueles que oferecem mais riscos. Então, acaba tipicamente garantindo o monopólio na forma de patentes. No final das contas, ainda paga pela droga a partir dos seus sistemas de saúde. Então, onde está o livre mercado?", afirma à BBC Brasil, o professor de Economia da Universidade de Massachussets, Lawrence King.
Ele afirma, ainda, que as empresas definem preços quase sem concorrência, determinando os rumos do mercado.
Para ele, a concentração deste mercado imenso se justifica pelo poder cada vez maior das corporações, sobretudo pela falta da aplicação das leis antitruste a partir da década de 1980. "E a maneira como isso se intensificou nos anos 2000 aumentou de forma dramática os monopólios", explica.
Isso não quer dizer, contudo, segundo King, que as empresas sejam necessariamente "vilãs" ou que atuem de maneira imoral. A questão é a estrutura atual de incentivos, diz ele. Os lucros na casa dos bilhões que obtêm anualmente não se devem apenas à produção de medicamentos, por mais caro que custem, ou por mais necessários que sejam. A maior parte dessas companhias recorre a expedientes legais para maximizar o valor das suas ações em bolsa

Estratégias de mercado
King é coautor do estudo "Apostando na hepatite C: como a especulação financeira no desenvolvimento de drogas influencia o acesso a medicamentos", publicado quando ainda era professor de Sociologia e Política Econômica da Universidade Cambridge.
O texto foi a base da tese de doutorado de seu ex-aluno Victor Roy, que hoje é médico no Boston Medical Centre, onde atende 200 pacientes com covid-19, sendo 50 em estado grave na UTI.
Ambos defendem que as estratégias de fusão e aquisição das empresas farmacêuticas ampliam seus custos de desenvolvimento e fazem com que o público acabe pagando bem mais caro pelos medicamentos.
Roy não desmerece os esforços das empresas, mas afirma que existe uma espécie de "parasitismo" na cadeia produtiva. Ele conta que muitas grandes empresas compram pequenos laboratórios ou start-ups quando percebem que há projetos promissores e altamente rentáveis, como foi o caso do sofosbuvir, antiviral contra a hepatite C, considerado um marco no mercado, pelo poder de cura de 90%.
O princípio ativo foi criado por uma start-up, que estimou seus custos em US$ 200 milhões. A pequena empresa foi comprada pela americana Gilead, em 2011, quando o produto estava nas fases finais de teste, por nada menos que US$ 11 bilhões, diante da promessa de faturamento de US$ 20 bilhões nos anos seguintes.
"Essas empresas também têm o poder de acelerar a fase final dos testes de obter a aprovação mais rápida do FDA", conta Roy, referindo-se à agência reguladora do setor nos EUA.
A Novartis afirma que vendeu seus negócios relacionados a vacinas ainda em 2015, e que abandonou a pesquisa antibacterial e antiviral em 2018.
"Embora a ciência para esses programas seja atraente, decidimos priorizar nossos recursos em outras áreas em que acreditamos estar melhor posicionados para desenvolver medicamentos inovadores que terão impacto positivo para os pacientes", diz a assessoria de imprensa.
A empresa também diz que seus investimentos em pesquisa e desenvolvimento no ano passado foram de US$ 9,4 bilhões ou 19,8% das vendas líquidas. E afirma que está "constantemente reavaliando esses planos" de acordo com as demandas não atendidas em populações com menos acesso. "Nosso objetivo é disponibilizar nossos produtos em países com o maior peso da doença a ser tratada", afirma a assessoria.
A companhia diz ainda que busca meios de expandir o uso clínico de medicamentos existes para novas indicações e populações, como é o caso da hidroxicloroquina, neste momento, que tem sido testada para uso em pacientes com a covid-19.
Eles ainda mencionam seu "compromisso para reduzir o fardo das doenças infecciosas e tropicais", destacando o Novartis Institute for Tropical Diseases (NITD), dedicado à busca de novos remédios para doenças negligenciadas. "E continuamos avançando em relação a várias doenças infecciosas como a malária, doença do sono na África, leishmaniose e doença de Chagas", informa.
Sobre o preço dos seus medicamentos, a empresa destaca levar em conta estratégias para que sejam acessíveis e tragam soluções inovadoras para gerir uma doença.
Para isso, "nos esforçamos para levar em conta níveis de renda, barreiras locais a remédios mais acessíveis e realidades econômicas, enquanto mantemos a sustentabilidade do nosso negócio". A empresa ainda explica que criou marcas locais para muitas terapias inovadoras em países em desenvolvimento para garantir que sejam mais acessíveis.

A britânica GlaxoSmithKline afirma que calcula os preços dos seus medicamentos e vacinas para que sejam acessíveis a todos aqueles que precisam, com base na realidade dos países e dos pacientes.
A empresa destaca que fato de estar no topo do ranking Índice de Acesso a Medicamentos (ATMI, na sigla em inglês) desde 2008 reflete a força do seu compromisso global de longo prazo com a melhora do acesso a saúde. E afirma ter políticas inovadoras para determinar seus preços em países em desenvolvimento, e em nações de menos desenvolvidas, de baixa renda, para quem abre mão das patentes dos medicamentos.
A Pfizer pondera que, em meio a uma pandemia como a atual, somente as grandes empresas, com operações globais, têm a capacidade de reagir depressa. "Podemos ser flexíveis", disse o porta-voz da companhia, Andrew Widger. Isso significa produzir em muito mais quantidade e remanejar estoques entre as 40 fábricas da empresa pelo mundo dos medicamentos mais demandados para lidar com a covid-19.
A Pfizer já identificou 70 produtos necessários, sobretudo para lidar com pacientes em UTIs. Entre eles estão antivirais, vacinas (para prevenir outras doenças neste momento) e remédios que podem ser usados para auxiliar no tratamento.
"A escala de produção que podemos ter ajuda", diz Widger. Segundo ele, a companhia está em constantes conversas com governo e autoridades do mundo inteiro. A produção de alguns itens já está 150% maior. Ele lembra que um medicamento novo leva de 12 a 15 anos para ser produzido.
A resposta para a covid-19 tem sido rápida, mas ainda assim, segundo ele, trata-se de uma doença identificada há seis meses. "E produzir medicamentos leva tempo, muitos investimentos e estamos lidando com a vida das pessoas. É preciso que funcione e seja seguro."
King afirma que existem centenas de tipos de coronavírus e que pelo menos dois deles são extremamente perigosos (o SARS e o MERS). Só isso já justificaria que pesquisas básicas estivessem sendo feitas há mais tempo.
Se houvesse um repertório relevante de pesquisas em andamento, segundo ele, seria muito mais fácil desenvolver uma vacina agora. "Assim, não precisariam partir do zero. Isso nos leva de volta ao mesmo problema: não há incentivos para desenvolver vacinas ou essas drogas até que haja um surto, e aí todo mundo vai tentar correr atrás", diz o professor. "Qualquer custo para esse programa sairia barato do que as consequências econômicas que estamos enfrentando agora", decreta.
"O problema é a racionalidade de curto e longo prazo. E, para as empresas privadas, especialmente nos Estados Unidos, a preocupação está apenas nos preços das suas ações na bolsa. O grande negócio é apostar nos aumentos de curto prazo, na recompra das próprias ações e da distribuição de dividendos. Isso é absolutamente oposto do precisamos para estar protegidos", afirma King.
Uma das conclusões do relatório "Revisão sobre a Resistência Antimicrobiana" coordenado pelo economista Jim O'Neill, em 2016 era a de que, a falta de investimentos para resolver a questão de os antibióticos já não surtiam efeitos sobre certas bactérias, custaria ao Planeta 10 milhões de vidas por ano a partir de 2050 em função de infecções (e da falta de antibióticos para lidar com elas) e causaria um prejuízo de US$ 100 trilhões à economia global.
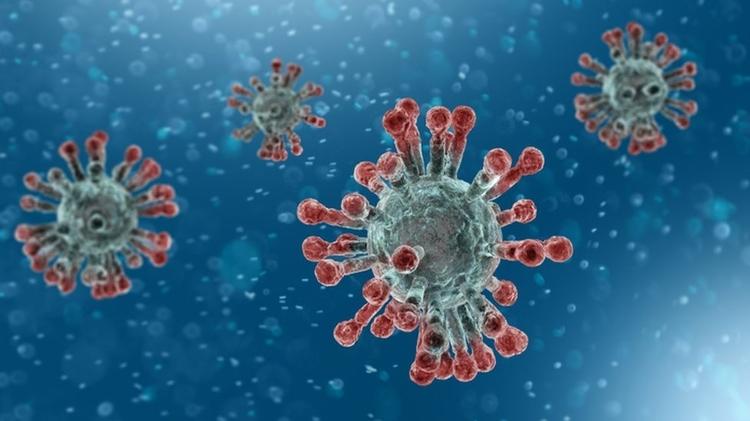
O documento defende 29 intervenções que custariam US$ 42 bilhões entre pesquisas e outras ações. Segundo O'Neill, o valor era menos do que o que as três maiores companhias farmacêuticas haviam gasto recomprando suas próprias ações ao longo de uma década.
O estudo foi encomendado ao economista, que hoje é presidente de Chatham House, um dos think tanks mais importantes da Europa, pelo então primeiro-ministro britânico David Cameron.
A Roche afirma que só se pode combater a resistência de bactérias à antibióticos de maneira bem sucedida se um grande número de diferentes medidas for tomado de maneira coordenada.
"E se a indústria, a ciência, as instituições de saúde, governos, autoridades reguladoras e contribuintes trabalharem muito de perto", afirma por meio de sua assessoria de imprensa. A empresa destaca que investiu cerca de US$ 12 bilhões em pesquisa e desenvolvimento no ano passado, o que significa um aumento de 6% em relação a 2018.
"É um dos maiores volumes de investimento em R&D (research and development) de toda a indústria farmacêutica. A Roche é um dos 10 maiores investidores do setor", diz. A empresa, porém, nunca investiu em vacinas. Mas garante que intensificou de maneira significativa os esforços no campo dos antibióticos nos anos recentes. "Lançamos alguns exames de diagnóstico que podem identificar bactérias em um curto espaço de tempo, o que permite consequentemente um tratamento mais específico."
Consórcio específico
Para King, a solução mais fácil seria os países riscos criarem uma espécie de consórcio, com um fundo para investir na criação de medicamentos cruciais sem patentes. "Sairia muito mais barato para eles, bem mais do que se resolvessem fazer individualmente", defende.
Mas o professor acredita que iniciativa semelhante ainda não existe por duas razões. A primeira é que o lobby das empresas farmacêuticas é grande. A segunda é que, de alguma forma, o formato das democracias não estimula ações como esta.
"Os benefícios não vão acontecer no mesmo ciclo político. Eu posso usar os meus recursos e isso é bom para a saúde púbica, mas o retorno será para talvez daqui a 10 amos, quando já não estarei mais nessa cadeira. Vou gastar dinheiro para resolver problemas futuro que não vão me ajudar a ser eleito em quatro anos. É melhor investir em algo que garanta minha eleição", explicou.
Em um contexto de pandemia como o atual, fica difícil enxergar a linha tênue que separa a economia da política, o que ficou ainda mais claro pela intervenção dos Estados com pacotes multibilionário de ajuda financeira para conter os efeitos dramáticos da covid-19 sobre as suas economias.
Para o professor da Universidade de Massachussets, mesmo os economistas da corrente dominante parecem ter esquecido o que já era sabido nos anos 1950 e 1960: mercados privados não lidam bem com sistema de saúde e medicamentos.
"É interessante ler a imprensa, quando discute sistema de saúde, e quando você vê as notas dos investidores. Eles falam abertamente: não faz sentido curar a doença, porque ela acaba com o seu mercado."
Para Roy, a maneira como os diferentes governos vão lidar com novo coronavírus — e outras futuras doenças —, a produção de medicamentos e vacinas daqui por diante, além da redução da dependência do monopólio das grandes empresas, vai depender das lideranças do futuro.
Enquanto países destacam "estratégias de guerra", como têm sido apresentadas pelas autoridades, para lidar com a economia, ele não vê os mesmos esforços de guerra para enfrentar a crise da saúde. Segundo o especialista, os governos deveriam investir no setor da mesma maneira que o fazem para a defesa.
"Ninguém ajuda a financiar as pesquisas de um novo modelo de caça para pagar duas vezes o preço dele lá na frente. É tudo negociado". afirma.
Os países, destaca o médico, estão sempre se preparando para ameaças de guerra, fazem exercícios militares conjuntos ou individuais. "Por que não agir da mesma maneira para enfrentar novas ameaças de novos vírus, ou futuras pandemias?", destaca.
Ele defende que deveria haver uma espécie de Nasa da biotecnologia para vacinas. "É do que precisamos hoje. Não podemos empurrar para frente as nossas mesmas vulnerabilidades ou piores", diz. "É tudo uma questão de escolhas políticas", reitera.
A Merck&Co (ou MSD, como é mais conhecida fora dos Estados Unidos e da América do Norte), procurada, afirmou que "não participaria da reportagem desta vez. Johnson & Johnson, Abbvie, Amgen e Sanofi não responderam aos e-mails enviados pela BBC Brasil aos endereços das respectivas assessorias de imprensa fornecidos nas suas páginas na internet.