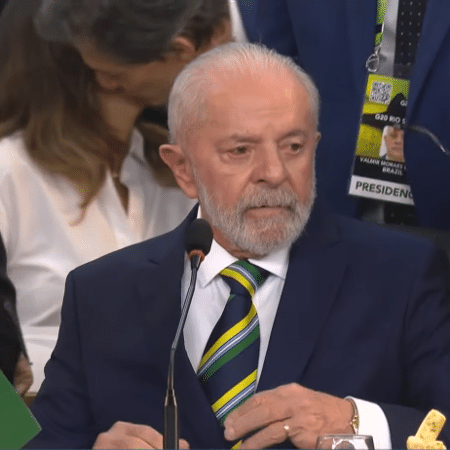"Com Bolsonaro, política externa se tornou uma caixa de surpresas", diz cientista político

Em seis meses, governo Bolsonaro provocou ruptura na política externa, marcada por distanciamento do multilateralismo e imprevisibilidade. Mudança gerou preocupação na comunidade internacional, avalia cientista político.
Jair Bolsonaro completa seis meses na Presidência do Brasil nesta segunda-feira (01) e, até agora, sua política externa pode ser caracterizada pela maior ruptura vista na política externa brasileira nos últimos cem anos, avalia Oliver Stuenkel, professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas (FGV).
Em entrevista à DW Brasil, Stuenkel destaca que o país abandonou uma postura voltada para o multilateralismo e passou a adotar uma política externa altamente imprevisível.
"Há uma incerteza em relação a o que o Brasil pensa quanto à China, Mercosul e Oriente Médio, gerando uma grande preocupação da comunidade internacional", afirma.
Para o cientista político, o Ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, é "um ministro extremamente fraco, mas mantém sua capacidade de fazer declarações absurdas e causar danos". "Parece-me bastante provável que o país continue passando vergonha com frequência nos próximos anos", comenta.
DW Brasil: Como você avalia os seis primeiros meses de Bolsonaro em relação à política externa?
Oliver Stuenkel: Nós vimos uma grande ruptura na política externa. Ela mudou em duas dimensões: o posicionamento externo do Brasil se alterou totalmente, o país deixou de enfatizar o multilateralismo como estratégia preferida da sua política externa e se alinhou mais a países que têm um profundo ceticismo quanto ao sistema multilateral. Assim, o Brasil faz uma rejeição mais ampla ao multilateralismo e tem posturas que colocam o país como parte do campo antiglobalista. Eu diria que é a mudança mais profunda na política externa em pelo menos cem anos.
A segunda grande mudança é que a política externa se tornou altamente imprevisível. Antes, havia uma previsibilidade sobre o comportamento brasileiro no palco internacional. E, agora, em função da briga constante entre três grupos [os militares, os "olavistas" e os tecnocratas], a política externa se tornou uma caixa de surpresas - e isso, no âmbito internacional, reduz muito a capacidade brasileira de assumir liderança e de influenciar outros países. Pouco indica que isso mudará ao longo dos próximos anos. Além da mudança de posicionamentos, há uma incerteza em relação a o que o Brasil pensa quanto à China, Mercosul e Oriente Médio, gerando uma grande preocupação da comunidade internacional em relação ao papel e à estratégia brasileira.
Mas o Brasil sempre se beneficiou do sistema multilateral.
Toda a lógica da política externa brasileira se baseia na crença de que um sistema multilateral forte é benéfico para o Brasil, porque o multilateralismo, de certa maneira, ajuda a mitigar o impacto da geopolítica. É consenso também que o Brasil tem sido, ao longo das últimas décadas, o país que mais se beneficiou desta ordem multilateral, porque é uma nação que tem forte influência nestas instituições, que conhece muito bem suas regras e sabe interpretá-las para aumentar sua influência. E Bolsonaro iniciou um processo para combater justamente este sistema que beneficiou tanto o país, e este governo não apresentou ainda uma resposta crível às suas alegações de que o globalismo limita a autonomia do Brasil, apesar de Brasília ter uma grande capacidade de influenciar as regras do jogo.
Quais são as consequências dessa falta de rumo na política externa para a região e a comunidade internacional?
Fica evidente que é cada vez mais difícil contar com o Brasil, porque, como o posicionamento brasileiro não está totalmente claro e nunca se sabe qual grupo interno irá se impor, Brasília é chamada cada vez menos para iniciativas. Um exemplo recente é a lançada pela Alemanha e pela França em defesa do multilateralismo, à qual foram chamados países como Argentina, Austrália, Canadá e Coreia do Sul - quer dizer, potências médias que têm interesse em defender o multilateralismo. O Brasil não foi chamado, e isso é inédito. Brasília participará menos de novas iniciativas, porque até mesmo países antiglobalistas, como os EUA, têm dúvidas sobre a capacidade de Bolsonaro implementar políticas de maneira coerente no âmbito externo.
Os seis primeiros meses do governo foram caracterizados por declarações polêmicas - como a de que o nazismo foi de esquerda - e manobras para cumprir parcialmente promessas eleitorais, como a abertura de um escritório comercial em Jerusalém em vez da transferência da embaixada brasileira para a cidade.
Essas afirmações mostram que, além do radicalismo do governo, há também claramente uma falta de preparo. Isso aumenta a frequência de gafes e erros crassos na política externa, como viajar para um país e articular uma preferência clara em relação à política interna dessas nações, como foi o caso da Argentina e EUA. Não há problema nenhum em ter uma preferência, mas articular de uma maneira tão explícita gera um problema quando esse seu lado preferido perde a próxima eleição. E isso afeta negativamente a relação bilateral. Nós vemos uma acumulação de erros desnecessários que não são posicionamentos que geram algum valor para o Brasil. A solução seria colocar um chanceler experiente que possa controlar o presidente, mas acho pouco provável que isso aconteça. Então me parece bastante provável que o país continue passando vergonha com frequência nos próximos anos.
Como você avalia a atuação do chanceler Ernesto Araújo?
Ele simboliza a ruptura radical que muitos eleitores desejaram ao votar em Bolsonaro. O chanceler articula essa "mudança de verdade" com uma postura que gera muita tensão interna e dificuldades de o Brasil fazer cooperação com outros países. A grande maioria do Itamaraty discorda dos posicionamentos dele, e isso afeta gravemente a reputação do país no exterior. Ele tem concorrentes dentro do próprio grupo político [dos antiglobalistas], e os interlocutores dele têm muitas dúvidas sobre o poder que ele tem de verdade, o que é péssimo para um chanceler. Ele é um ministro extremamente fraco, mas mantém sua capacidade de fazer declarações absurdas e causar danos.
Como você vê as alianças de Bolsonaro com ultranacionalistas como Donald Trump e Viktor Orbán, e a postura do brasileiro de contrariar parceiros de longa data no Oriente Médio ao se aliar com Israel?
De certa maneira, essas alianças deixam muito claro para onde esse governo quer ir e facilitam o entendimento da comunidade internacional sobre quais são as intenções de Brasília. Porém, isso causa problemas para o interesse nacional brasileiro, porque esses países, do ponto de vista econômico, agregam muito pouco: o valor do comércio do país com Israel, Polônia, Hungria e Itália é relativamente pequeno. Por isso que existe aí uma preocupação profunda entre representantes da economia brasileira sobre o possível impacto negativo que essas mudanças podem ter para a economia do país.
Berlim e Brasília têm uma parceria estratégica desde 2002, mas ela esfriou principalmente após as turbulências do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Antes da reunião do G20 da semana passada, a chanceler federal alemã, Angela Merkel, e Bolsonaro trocaram farpas. Como você vê o futuro da relação entre os dois países?
O espaço para a cooperação bilateral diminuiu bastante, porque em várias áreas importantes, como mudança climática e multilateralismo, o Brasil mudou radicalmente de direção. O ministro do Exterior alemão, Heiko Maas, esteve neste ano no país para avaliar como é possível continuar com essa parceria estratégica, mas certamente será necessário adaptá-la às novas circunstâncias e ser muito mais modesto a possíveis resultados.
Como você avalia o alinhamento do Brasil com os EUA? Até agora, quais foram os ganhos para Brasília?
Houve ganhos pontuais, ou seja, o Brasil faz parte agora dos países aliados fora da Otan, o que facilita a cooperação militar. Mas com as duas questões fundamentais que Washington quer de Brasília, que são o apoio para resolver a crise na Venezuela e a ajuda para limitar a influência chinesa na América Latina, o Brasil não conseguirá contribuir. Em função disso, parece-me que a relação dificilmente se aprofundará da maneira que o governo brasileiro espera.
Como você vê o futuro das relações do Brasil com a China e com a Europa?
No momento há algo interessante acontecendo: uma parte do governo quer se aproximar dos EUA e, a outra, manter os laços com a China. Em breve, o Brasil terá que tomar decisões muito importantes que dificultam uma estratégia de ficar bem com os dois lados: a primeira é se Brasília fará parte ou não da iniciativa "One Belt One Road". Washington quer que o Brasil não participe; já a China, obviamente, tem a expectativa de que isso ocorra. A segunda questão é em relação ao 5G: os EUA pressionam para que o Brasil possa banir a Huawei, e grande parte dos técnicos quer que a empresa participe da construção da rede brasileira.
Em relação à União Europeia, a relação vai se aprofundar devido ao fechamento do acordo de livre-comércio com o Mercosul. Mas sempre há a ressalva de que os líderes europeus têm plena consciência da hostilidade do governo brasileiro em relação ao projeto europeu, e isso, fora o âmbito comercial, vai limitar qualquer tipo de cooperação.
O governo Bolsonaro reduziu o papel político do país no Mercosul e na crise da Venezuela. Quais são as consequências de Brasília com menos influência regional para o futuro da região?
O Brasil não tem uma estratégia clara nem para o Mercosul nem para a América do Sul. Em função disso, a região não sabe como responder à postura brasileira, e há um vácuo de liderança na América do Sul. Isso é agravado pelo fato de o Brasil ter que encarar muitos desafios internos e ter muita dificuldade de governar. Isso significa que nenhum projeto regional irá avançar nos próximos anos, e a região continuará à deriva, sem um plano brasileiro crível para resolver a crise da Venezuela ou, pelo menos, exercer uma influência positiva naquele país.